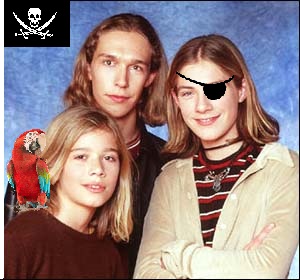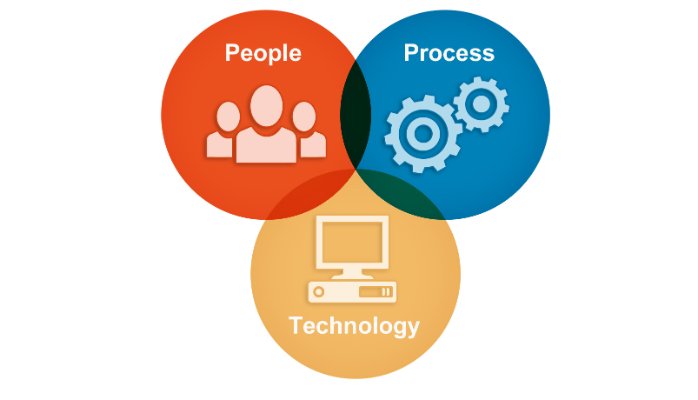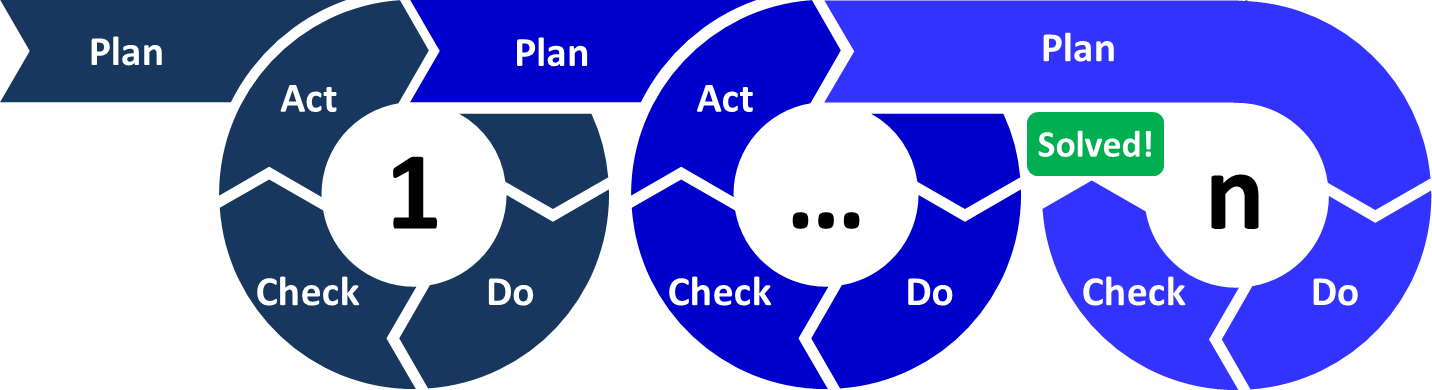Créditos da imagem: perfil “PlebeusOciosos” no Instagram.
Eu quero um mundo sem Alexandre de Moraes. Calma, calma… Respira… Não vem um ataque ao ministro. Tampouco, vem uma defesa. O que tento, a seguir, é uma análise conjuntural da saúde da democracia brasileira após quatro anos de Bolsonaro e com práticos dois anos de Lula “3”. E a primeira frase (um mundo sem Xandão) é quase que o fim da análise. Então, se você tiver paciência, eu quero (re)começar o raciocínio do começo.
E já começo acabando com qualquer mistério. A pergunta do título é retórica: é claro que não vale tudo. É por isso, só por exemplo, que existem crimes de guerra. Se é possível aniquilar um exército inimigo com chumbo e fogo, e “terraplanar” um pedaço de território com bombardeiros e canhões, mas ainda assim, há limites que, uma vez transpassados, merecem represália especial, então não “vale tudo”, em lugar nenhum. Se quiser consultar exemplos de crimes de guerra veja o Estatuto de Roma, ratificado e promulgado no Decreto 4.388/2002, a partir do art. 8º. Nem mesmo na luta de “vale tudo” (de onde o termo veio) realmente vale tudo. Tente lutar com as mãos cobertas por cacos de vidro e você vai ver que não vai ter luta.
O que estamos tentando evitar (estamos, mesmo? Quem?)? Eu acho que nem isso é claro para todos, então eu repito o que pelo menos eu quero evitar: eu quero evitar a volta da barbárie, de uma sociedade em estado de natureza pura, como aquele descrito em Hobbes, onde o homem mais forte vence, mas só enquanto for mais forte. Se ele gosta da minha casa, me expulsa e/ou me mata. Se gosta da minha mulher, idem. Se eu tenho um problema com meu vizinho, bato nele ou apanho – quem for mais forte tem a razão. Mas, o mais forte também dorme. O mais forte também adoece. O mais forte – do tipo “sortudo” – envelhece. E foi assim, de forma muito porcamente reduzida, que a raça humana, em algum ponto de sua história, disse – não de maneira uníssona, claro – “chega… a gente precisa regular os conflitos de uma forma que a força física não seja a régua a estabelecer quem está certo”. Cada tribo e povoado, cada reinado e império; cada qual a seu tempo; chegaram todos à conclusão de que era preciso superar o estado bestial da violência como única baliza a resolver as diferenças, porque a força necessária à violência não serve o homem por muito tempo (velhice), tampouco o serve o tempo todo (sono, doenças[…]), de tal modo que até mesmo parte daqueles que se beneficiavam da violência concordaram que era hora de superar esse meio de resolução. Todos? Não. Nunca somos “todos”. Mas o fomos em quantidade suficiente para que esse abandono de um direito natural ( = pautado nas leis da natureza) em prol de um direito de base social fosse a regra de convívio para nossa espécie.
Não preciso dizer que se estou resumindo algo em torno de dez ou doze mil anos de História (pelo menos isso desde que o homem fundou a agricultura e, com ela, o sedentarismo [em oposição ao nomadismo], germinando as vilas e cidades), também estou sendo extremamente grosseiro (ou seria “romântico”?) com a forma como isso se deu. Se alguém entendeu, pelo meu texto até aqui, que essa compreensão e adoção foi linear e inexoravelmente irreversível, perdão. Mil vezes “perdão”. Mas eu não tenho tempo, nem conhecimento, para contar tal capítulo “do jeito certo”.
O que posso garantir é que o que eu defendo é um modelo de sociedade em que não vence o mais forte, mas vence quem tem certa razão lógica. E “razão” é um desses termos que foi esvaziado de significado. Como eu já apontei, na minha visão, o maior problema dos nossos tempos reside na completa falta de significados compartilhados entre os indivíduos de um grupamento social. Não falamos mais a mesma língua, mesmo quando achamos que sim. Pai e filho, vizinhos, cidadãos… Dizemos o mesmo significante, mas não atribuímos o mesmo significado. E, quando a comunicação regride aos seus níveis mais primordiais, “violência” é um tipo de comunicação basilar. Talvez, o primeiro. Animais irracionais que mantêm os filhotes por perto (nem todos mantêm) adestram suas crias principalmente através da dor. Mordidas, patadas e por aí vai. Algumas geram graves lesões nesse processo “educacional”.
Onde eu estava? Ah, sim: o que eu defendo. Eu defendo a democracia liberal, recriada – ou, ao menos, solidificada – no pós-segunda guerra. Ela nasce das rebeliões contra reis absolutistas no século XIII (daí o “liberal” em seu título, e que nada tem a ver com doutrinas econômicas), mas vai ganhar os contornos que temos por agora, só depois dos anos 1960. É essa democracia que defendo; aquela que me garante um conjunto elementar de direitos (à vida, à liberdade, à dignidade[…]), e que, ao mesmo tempo, garante àqueles ao meu redor (a sociedade) que eu não vou abusar desses direitos de forma a fazer mal à essa coletividade abstrata, inominada, porém, sempre presente. Ninguém vive sozinho. Nem quem diz que vive (se diz, diz para alguém). De quebra, essa democracia que defendo me garante o direito de opinar, de tempos em tempos, em como será construído o Estado: seja pela minha indicação de quem quero no comando dos botões (via eleições), seja me consultado diretamente sobre temas de relevância (consulta pública, referendos, plebiscitos etc.).
Para complicar mais esse desenho de ficção e que se presta a resolver conflitos sem permitir que a violência seja a maior baliza (a esta ficção damos o nome de “Estado”), esse desenho reparte funções do poder estatal para que cada função vigie uma à outra, cuidando que não haja excesso que capture o poder estatal para este ou aquele grupo. Afinal, em troca do direito natural de decidir os conflitos pela força, nos foi dito que o Estado seria o que nós não podemos ser: justo. “Justo” vem de “justiça” e já disse que creio vivermos a era do esvaziamento dos sentidos. Para ficar claro, reestabeleço o que chamo de um “Estado justo” e que nem nos mais loucos sonhos é um sentido cunhado por mim, um insignificante ninguém que escreve a esmo na internê: Estado justo é o Estado que trata os iguais igualmente, e os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade. Há outro milhão de definições e as outras definições podem ser melhores. Esta é a mais simples de explicar e eu gosto dessa simplicidade por ser didática.
Se meu vizinho e eu temos as mesmas possibilidades, posses e razões (por exemplo, para brigar), o Estado nos tratará igualmente diante do conflito, estabelecendo o que é direito de um e de outro com base em lei prévia ao desacordo. Se não há lei prévia, o Estado, que não tem o direito de se furtar à responsabilidade de resolver o entrevero (a isso damos o nome de “princípio da inafastabilidade da jurisdição”), utilizará de interpretação análoga de outra lei (digamos: uma lei marítima que resolve um problema em terra para o qual não há lei específica) ou a aplicação de princípios basilares do Direito, para achar uma solução para o caso concreto. Se forem muitos os casos concretos que envolvem o mesmo conflito e sem lei prévia que defina o que é certo e errado, o judiciário poderá, então, uniformizar o entendimento que o juiz deve aplicar para resolver aquela situação. Só para exemplo dessa uniformização, mas longe de ser o único meio possível, através da edição de uma súmula vinculante (SV) que, em modernas constituições, só pode ser feita pelo órgão de cúpula do judiciário – no nosso caso, o STF. Até que chegue o dia – tomará, meu Deus, tomará – em que o legislativo saia de seu sono esplendido e realize a função precípua que lhe cabe: legislar ( = criar leis).
Falei que na falta de lei, e de lei que permita aplicação por analogia, cabe a aplicação de princípios, certo? Vejamos um exemplo: No Brasil, a primeira lei que o aluno de direito deveria estudar é a LINDB (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). Ela está materializada no Decreto-Lei n° 4.657/1942 (não é como se não houvesse regras antes de 1942… É só o que há de “mais novo” no tema). Há uma série de regras sobre como será interpretado e aplicado o Direito (~= as leis) no Brasil. Só por exemplo, o art. 3º fixa que ninguém pode deixar de cumprir a lei sob a alegação de não conhecê-la. Parece meio óbvio, não é? Mas sem uma lei que diga isso, o Estado democrático não funciona bem porque temos que lembrar que, aos indivíduos, tudo é lícito exceto o que foi expressamente proibido (Constituição Federal, art. 5º, inc. II). Se não há lei que obrigue o sujeito a respeitar todas as leis, seria lógico que o cidadão dissesse “não cumpri essa lei porque não a conhecia e não há nada que me obrigue a conhecer”. Mas, vem a LINDB e obriga todos a conhecer todas as leis. Isso é possível? Lógico que não. Nem o mais competente jurista, vivo ou morto, conhece todas as leis de um país. É impossível. O que esse princípio gera é um “dever de cuidado”. Se você vai abrir uma pastelaria, convém ler o que é preciso para obter um alvará, contratar alguém, respeitar o consumidor e a vigilância sanitária. Você precisa ler sobre impostos de importação? Provavelmente não. Mas o risco é seu e o cuidado de se preparar para as obrigações legais, também. O mesmo ocorre quando você decide deixar de ser pedestre (na origem, todos somos) e passa a ser condutor. Todos devem conhecer a lei de trânsito (CTB), incluindo pedestres! Mas o condutor deve conhecer em detalhes. Senão, vai perder o carro, a carteira e até a liberdade.
Mas não era exatamente disso que eu queria falar em terras de LINDB. Eu queria falar do que ela comanda quando não há lei específica para o problema que o judiciário precisa responder – e, lembre-se: o judiciário SEMPRE precisa responder [negativa ou positivamente] às provocações que lhe são oferecidas através de processo judicial. SEMPRE. Se o judiciário, repartição do poder estatal, pudesse se negar a apreciar ação judicial por qualquer motivo, viveríamos em um inferno ainda pior do que se pode pensar sobre o estado de coisas atual; inferno em que não poderíamos resolver nossos próprios problemas (porque a lei veda o exercício arbitrário das próprias razões – art. 345 do Código Penal) e o Estado – que nos disse para abandonarmos a violência porque ele resolveria as contendas – poderia então, do nada, do nadão, dizer “ah, hoje eu não tô afim não, tá… passa mais tarde…” para sempre.
A LINDB, então, determina ao aplicador da lei – em geral, o juiz, mas não só ele – que, no caso em que [o conjunto de] lei[s] for insuficiente à resolução do problema, deve-se:
Art. 4o decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
Art. 5o Na aplicação da lei, atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
Mais tarde, durante o aprendizado da hermenêutica (interpretação) jurídica, o aluno passa a conviver com princípios como da precaução, prevenção e prudência. Entre outras coisas, aprende que mesmo quando os n lados do conflito tem razões jurídicas amparadas em lei (o que é altamente possível com a “fúria legiferante brasileira” [o excesso de leis]), deve-se privilegiar o lado que tentou evitar um dano diante daquele lado que não se precaveu. Claro: só o caso prático pode tornar essa análise uma resposta concreta. Em abstrato, o Direito é para sempre um grande “depende”. Mas há vários cuidados que ditarão o resultado ótimo de um processo (resultado que nem sempre o juiz do mundo real realiza; mas um juiz-modelo deveria realizar).
Três páginas e eu não cheguei em lugar nenhum, não é mesmo? Vai ficar pior…
Para Raymundo Faoro, autor interessante para quem quer falar em sociologia no Brasil (ao lado dos clássicos de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jr. e Celso Furtado), especialmente em sua opus magnum (caramba, como estamos chiques, hoje!) “Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro”, há uma diferença fundamental na formação da República Brasileira na comparação com outras repúblicas modernas, e essa diferença reside especialmente na falta de uma verdadeira revolução burguesa como gatilho a iniciar a transição de um modelo monárquico, imperial (ou seja lá qual era sua matriz) para um modelo verdadeiramente republicano. Indo um pouco mais nas premissas de Faoro, vemos que as elites que fundam a colônia portuguesa por aqui nunca se afastaram da fundação do Estado modernizado, de tal modo que as instituições republicanas que surgiram jamais tiveram chance de ter raízes mais profundas neste Estado. Em comparação, a instrumentalização do Estado brasileiro para a defesa e o avanço dos interesses oligárquicos dessas elites sempre foi uma constante no pré e pós “República”. Há toda uma discussão se Faoro realmente entendia o todo que decidiu criticar, já que a ideia de um país inteiramente atrasado porque seu “estamento burocrático” (funcionalismo público) assim o quer é um tanto quanto… Difícil de provar… No mínimo.
Isto não é o mesmo que dizer que em países onde a mudança para sistemas republicanos se deu por verdadeiras revoluções burguesas ( = uma classe sem origens nobiliárias mas, sim, formada por trabalhadores, artesões e comerciantes, doutos em seus ofícios, capazes e competentes o bastante para dominar o destino da economia nacional) estão ou estiveram livres da influência de suas elites no funcionamento das instituições daquele lugar. O que Faoro defende, isto sim, é que a própria construção republicana no Brasil é um arremedo ao valor contido na ideário de “República”. A rés [coisa], no Brasil, jamais foi pública [de todos] (“rés-publica” = república). Para Faoro, o patrimonialismo que faz o agente público entender o Estado e seus mecanismos como extensão de suas posses pessoais, jamais deixou de ser a regra por aqui. Todas as instituições que atuam em nome e em prol do Estado brasileiro foram criadas por aqueles que já eram donos – primeiro da colônia e, depois, da nação – do Brasil, antes da República Brasileira nascer [de um golpe militar contra a monarquia] em 1889. Logo, suas instituições estão, como sempre estiveram, a serviço de seus arquitetos – que se são, sim, parte do povo brasileiro, jamais pensaram as instituições como defensoras de um Estado que visa “um país para todos”.
Oras… O que estou dizendo, então? Tudo está arruinado; não resta nada a salvar; é um edifício condenado esse tal de “Estado democrático de Direito” da “República federativa do Brasil”? Olha… Se eu não morasse “no edifício”, talvez eu achasse mais fácil jogar no chão e fazer de novo. Talvez seja, mesmo, este o ponto crucial que me separa dos fatalistas e dos anárquicos correntes. Eu moro no prédio e não quero que ponham ele abaixo, comigo dentro. É claro que é o caminho fácil, mas também é o caminho fácil matar todo mundo que discorda de mim. Deve ter outras razões, então, que me impedem de adotar quaisquer desses caminhos. E esse é o dilema com qualquer país, com qualquer estado, com qualquer município, com qualquer grupamento de pessoas. Você praticamente nunca tem a chance de “pôr tudo abaixo e começar do zero”. É o avião que está em constante reparo e melhoria enquanto voa. Não pode pousar, não pode ser desmantelado enquanto voa. Partes cruciais precisam ser mantidas a todo custo, mesmo que não sejam ótimas, uma vez que ele saiu do chão. Alô Mangabeira Unger! Alô imaginação institucional! (Outro tópico, outro dia).
E, claro: há aviões que vão de encontro à terra. Na analogia aos países, há os que se acabam, geralmente em guerra civil, em pobreza extrema, em dominação, anexação e outras catástrofes para esses povos. De novo: morando dentro do prédio (ou de carona nesse avião metafórico), eu não quero nada disso para o meus país, não…
As instituições, por outro lado, são os sistemas de bordo ou o piloto-automático do nosso avião. Quando alguém diz que o mais importante em uma democracia (seja ela republicana ou monárquica) são “instituições fortes” é exatamente nesse sentido de combater o rapto do Estado – que detém o monopólio da violência – por parte de quem quer mantê-lo (ou adicioná-lo) como seu patrimônio pessoal. Instituições podem ter nomes de órgãos e prédios, como “Ministério Público” ou “INSS”. Mas, instituições podem ser conceitos ao invés de lugares ou repartições. Por exemplo, a instituição “devido processo legal” pode ser forte ou fraca. A instituição “sistema universal de saúde” pode ser empoderada ou inviabilizada.
“Instituição” vem da ideia de “instituto” e do ato de “instituir” que, neste contexto, transmite a ideia de atribuir (a si mesmo ou a outros) uma missão. Quanto mais duradoura é a missão (por exemplo, garantir o direito à assistência jurídica aos que não tem condições financeiras), melhor é o instituto (no caso exemplificado, a Defensoria Pública), no sentido de que é possível criar uma cultura de valores e importância daquela instituição ao longo dos anos, tanto para a sociedade que passa a conviver com aquela instituição e ver seus frutos (bons e ruins), quanto internamente para aqueles que dão vida à instituição ao longo de gerações de trabalhadores que por ali passam.
Meu raciocínio está ficando mais claro pra você? O patrimonialismo denunciado por Faoro seria uma má-formação congênita de uma república em que pequenos grupos, muito poderosos, até permitem que a república se forme e o Estado passa a existir não pela vontade de um monarca, mas sim porque o povo assim quer que seja. Esse patrimonialismo permitiria que a república exista, mas ele desejaria instituições fracas. Porque instituições fortes fazem o que sua missão manda, doa a quem doer. E isso não pode acontecer jamais. O Ministério Público não pode denunciar “doa a quem doer”. A Polícia não pode investigar e prender “doa a quem doer”. A Escola não pode ensinar “doa a quem doer”. O Hospital não pode curar “doa a quem doer” (imagina! Pobre vivendo muito! Quem vai pagar essa conta? Daqui a pouco, falam em taxar fortunas de novo…). E é neste ponto de que discordo de Faoro, porque, diferentemente do que ele considera como a origem do mal (o funcionário público “hereditário”, de família naquela instituição e por aí vai), eu acho que esse funcionário que desvia a máquina em seu favor é só mais uma consequência do que uma causa-raiz e está longe de ser a regra no serviço público; há muito servidor tentando viver e dar vida à missão institucional. Para mim, o problema continua sendo da elite que “autoriza” a República brasileira, como indicou Oliveira Viana ou Victor Nunes Leal.
O Brasil é uma República “doa a quem for mais fraco”. Não pode ser do outro tipo porque quem permitiu que a República se fundasse por aqui não quer que isso ocorra – e, não: eles não estão todos numa sala à meia-luz, tomando whisky de milhões e fumando charutos de bilhões… Isso é fantasia de “cumpanheiru”. Essas elites sequer concordam quanto aos rumos a tomar, a seguir… A elite agrária de um país raramente concorda com os interesses da elite industrial – só por exemplo. O que essas elites apenas sabem é que não querem um Estado que possa lhes impedir de fazer o que querem, quando querem; nisso, todas elas concordam. E para não ser uma República “do outro tipo” (“doa a quem doer”), instituições não podem ser fortes (no sentido de ter uma missão clara, tão imparcial quanto se possa conceber, aplicada contra tudo e contra todos, ao longo dos tempos, todas as vezes).
Um dos meios de criar instituições fracas é deixar suas missões embaralhadas, dúbias, incertas, erráticas… Outra forma de enfraquecer instituições é colocar figuras personalistas e populistas em sua direção.
Eu já desenvolvi contigo o porquê de estarmos nessa: do porquê abrimos mão do direito natural de resolver tudo na força; do porquê um Estado democrático dividir seu poder em funções; do porquê um Estado democrático dever ser protegido, já que ele garante meus direitos e te garante que eu não abusarei deles, ao contrário de outros tipos de Estado (totalitário, absolutista, de exceção…). Já discorri sobre o porquê da função do Estado chamada Estado-Juiz, ou judiciário, não poder se negar a resolver as desavenças que lhe são denunciadas. Também falei o porquê não gosto da ideia de jogar tudo fora e começar de novo, comigo morando dentro do prédio que (hipoteticamente) você quer demolir. Finalmente, falei de porquê o Brasil teima em ser uma república meia-boca, e como as instituições são elementares no processo de fundamentação de uma real república, coisa que o Brasil nunca chegou a ser à vera (de novo, vide Oliveira Viana, vide Victor Nunes Leal – o loteamento do país é uma constante, ora por um tipo de força, ora por outra).
O que está faltando? Está faltando falar sobre a defesa da Democracia. Eu já disse o porquê eu acho que ela deve ser defendida. É um sistema com falhas e vícios, contudo, todos são. Só que os defeitos dela ainda são menos horríveis do que os defeitos de outros sistemas. Se a Democracia será presidencialista, parlamentarista ou até monárquica (como é o caso do Reino Unido e sua monarquia parlamentar – “monarquia” que, em nossos tempos, ainda é o oposto de “república”, mas não de “democracia”) isso não me importa por agora, embora eu também tenha preferências nesse campo.
O que eu quero é salvar um Estado que se rege e se restringe pela Lei (com letra maiúscula, pois aqui funciona como uma instituição). E aqui, a coisa toda começa a tomar forma: enquanto o cidadão pode fazer tudo aquilo que a Lei não proíbe (lembra da CF, art. 5º, inc. II ?), o Estado democrático de Direito só pode fazer aquilo que a Lei PERMITE. A isto, damos o nome de princípio da (estrita) legalidade (vários lugares na Lei o evocam. Ex.: art. 37 da CFRB). Essa não é uma conversa nova se você costuma ler as bobagens que publico por aqui. Porém, é sempre importante (para mim) ter a certeza de que o texto que apresento tenha certa consistência em si e permita a apreciação por qualquer um: quem chegou agora nesta seara e quem já está aqui há muito tempo.
O dilema atual da defesa das democracias é que, diferente dos anos 20 e 30 do século XX (1900s), os ataques às democracias não vêm de países sob regimes totalitários. Nem mesmo vêm de grupos extremos internacionais, como sugeriu-se que ocorreria com o terrorismo que aflorou no início dos anos 2000. O ataque às democracias no século XXI, década de 10 e 20, vem quase sempre “de dentro”. Do povo. Do povo que, em tese, autorizou a fundação do Estado democrático de Direito.
Nós poderíamos passar mais 80 páginas discutindo o porquê dessa ruptura entre criador e criatura, mas ficam dois bons livros para entender o cenário dessa onda atual de ataques às democracias. O primeiro é o bem conhecido “O Povo contra a Democracia” de Yascha Mounk. O segundo é o também popular “Como as democracias morrem” de Steven Levitsky e Daniel Ziblat.
O primeiro livro teorizará que a democracia está sob ataque por n fatores, como os econômicos e sociais (estagnação do poder de consumo, medo da imigração e o choque cultural, efeito do uso de redes sociais e da disseminação de desinformação) influenciando aquelas sociedades (no caso deste livro, o autor foca nos motivos para EUA e Reino Unido), a percepção de que os interesses privados de cada um são mais importantes que os objetivos coletivos, e de que o acordo social em vigência (em geral, uma constituição) não foi autorizado por si e, portanto, não é válido; a tudo isso soma-se a descoberta por atores políticos reacionários ( = que desejam o retrocesso das conquistas sociais atuais [em geral, das liberdades individuais e garantias de grupos historicamente perseguidos]) sobre como fazer um governo autoritário, no entanto, dentro das regras legais.
O segundo livro dirá que as democracias já não morrem por meio de violentos golpes de Estado, mas através de uma erosão silenciosa e contínua das instituições democráticas. Levitsky criticará a falta de regras democráticas que exijam de todos os atores políticos a obrigação de conviver com adversários e opositores e, ao mesmo tempo, a falta de capacidade para impedir que o governo em exercício “abuse” dos poderes institucionais [ainda que de forma legitima], pois, assim que forças adversárias chegam ao Poder, a primeira providência é limitar os poderes institucionais que causaram incomodo, enfraquecendo as instituições. Igualmente, o autor apontará como culpados os partidos políticos tradicionais que, sabendo do apelo de personagens populistas radicais (à esquerda e à direita), tentam convidar esses atores para dentro do sistema político sonhando que poderão controlá-los, uma vez eleitos. O livro ainda faz um paralelo interessante navegando pela recente história de países europeus (notadamente, Hungria) e latino-americanos (ex.: Venezuela ou Nicaragua) que percorreram esse caminho de “erosão por dentro”. Finalmente, o autor deixa um roteiro de “alerta” para detectar a “erosão por dentro” de forma prematura: ataques ensaiados e orquestrados à imprensa livre, ao poder judiciário e às instituições que vigiam o cumprimento das variadas normas em uma democracia (no nosso caso, são exemplos: CGU, Anvisa, Ibama…).
O desafio de defender a democracia nos nossos tempos é que o ataque é interno. O ataque vem de quem deveria defendê-la. E, só talvez, esse seja o sinal mais claro de que deveríamos deixar ela morrer. Afinal, é como se eu estivesse há alguns meses da queda da Bastilha e seguisse escrevendo num folhetim para distribuição às margens do Senna: “franceses raivosos querem pôr tudo a perder, só porque não gostam de como tratam os presos na Bastilha!”. Se o povo quer o fim da democracia no Brasil ou em qualquer lugar, o povo está certo, não é mesmo? … Sei não…
Se estivéssemos discutindo o fim da democracia por um sistema novo, que se discutiu aqui e ali, que só um país está testando (digamos, um sistema gerido por IA – [Ave Maria… É só exemplo, hein?]) poder-se-ia dizer que tudo o que se disse até aqui foi apenas impulsionado por “medo de algo novo”. Acontece que não é isso o que está se passando. O que as pessoas com raiva da democracia querem é o fim desta e o retorno de sistemas já testados no passado, como o totalitarismo das ditaduras, geralmente com tons fascistas quando não, o retorno de oligarquias que deem soluções óbvias e fáceis para problemas complexos (tá faltando emprego? Que tal voltarmos a extrair carvão das minas?). São soluções óbvias e fáceis, como também são absolutamente erradas. E vão fazer os mais fracos (em todos os sentidos) sofrerem mais.
Este é o dilema dos nossos tempos: é claro que o Estado brasileiro de 2024 está aquém dos anseios de seu próprio povo. E o Estado brasileiro de 1960 também estava. E o Estado brasileiro nunca esteve além dos anseios de seu povo, nem mesmo nos melhores anos de FHC ou Lula. Claro, teve-se um vislumbre, um brilho, uma esperança aqui e ali. Contudo, nada disso durou mais que “dois Mississipi[s]”… É o Cristo Redentor começar a voar na capa da The Economist para alguém da elite brasileira se enfezar com o pobre vencendo na vida [“pobre”, na visão deles, é todo mundo que precisa trabalhar pra viver] e vir derrubar la puerra tueda… Ora a elite econômica, ora a elite intelectual, ora a elite jurídica (porque não é surpresa para ninguém que filho de desembargador e ministro, dembargadorzinho e ministrinho é, certo?). Até porque, nas polêmicas palavras de Faoro, isso aqui nunca foi uma República e o Poder sempre teve dono[s].
Bem, qual é o mega-drama então? A defesa da democracia não pode, diante desse novo estado de ânimos e forma de ataques, se dar em abstrato. Ou seja: com ataques que a corroem por dentro, e vindo de todos os lados (seu povo, redes sociais governadas por [leis de] países e [interesses de] empresas e pessoas externas ao Brasil, elites sociais querendo a diminuição do poder das instituições que lhes incomodam[…]), o Estado não pode esperar que tudo apodreça para que, só aí, medidas comecem a ser tomadas.
Ok, mas eu também disse que o Estado só pode fazer aquilo que a Lei permite. Senão, não é mais democracia. Porém, a lei nunca é escrita de forma a prever todos os casos do mundo real porque, advinha: é impossível prever todos os casos. Por outro lado, é um perigo escrever uma lei que descreve genericamente um crime, porque se a descrição é genérica, o agente estatal pode decidir se a aplica ou não. Então, não ter uma lei específica para proteger a democracia é ruim, mas ter uma muito abrangente também não funciona. E pior ainda seria uma lei que é genérica a dizer o que são crimes contra a democracia, permitindo que cada governo de momento aplicasse esta lei contra seus desafetos. Qual a solução? Até parece que eu sei. Ninguém sabe, de verdade. O que se tem hoje são, isto sim, indícios.
Deixo e sugiro a leitura do bom trabalho (relativamente curto) de Jan-Werner Müller, infelizmente em inglês, sobre “democracias militantes”. O conceito tem sua fundação relacionada ao fim do regime nazista na Alemanha e descreve uma postura em que o regime democrático mata “a serpente ainda no ovo”. Toda vez que um “ator político” (não necessariamente filiado a partidos, ou anunciado candidato a nada) passa a ventilar ideias que visam desmontar a democracia, ideias que, como visto nas obras de Mounk ou Levitsky, visam enfraquecer instituições, frear a capacidade da lei de ser aplicada a este ou aquele, remover proteções de abusos de direitos individuais e tudo aquilo que contraria o “tripé democrático” (liberdades, proteção coletiva contra o abuso das liberdades, participação popular na formação dos governos), então é chegada a hora da democracia militante atuar e acabar com essa farra. O “acabar com a farra” deve, é claro, seguir algum pressuposto legal, e não estamos tratando de uma “democracia que tortura e mata opositores” para se defender. Contudo, se há lei já prevendo restrição de direitos (e.g. apreensão de passaportes), inquéritos, interceptações telemáticas, e até mesmo prisões preventivas para lidar, digamos, com o tráfico de drogas, por que essas mesmas leis não poderiam ser utilizadas para investigar quem quer acabar com o Estado democrático de Direito?
Eu não vou, por uma questão óbvia de extensão, revisar todo o artigo de Müller, mas eu posso afirmar que nesse conceito de “democracia militante” há um divórcio incontornável entre uma visão de democracia estrita e, por assim dizer, positivista (se está escrito: pode; se não está: não pode), e uma visão mais jusnatural ou jusracionalista (de um direito maior, que emana de princípios anteriores à concepção do próprio Estado), ou até mesmo, atualizando para termos correntes da Academia, mais Dworkiana, de um “Direito interpretativista, idealista”, que se adapta a certas noções de um bem maior, numa sociedade que parrilha de um certo norte moral, que não para na letra fria da Lei e que exige e demanda um profundo exercício cognitivo do aplicador da lei, em todas as instâncias.
Para os positivistas clássicos (exclusivos) é errado emprestar o sentido de uma lei que é clara em sua formulação para a aplicação em outro lugar completamente distinto da origem a qual a lei versou. Isso seria, nesta visão, também o fim do princípio da estrita legalidade já que, agora, o Estado até usa a lei para se embasar, mas a usa com “muita liberdade de interpretação”.
Para “o outro lado”, numa leitura mais apoiada em Dworkin e com maior ligação ao sistema da Common Law americana ou inglesa (em oposição ao nosso sistema romano-germânico, de Civil Law) o Direito versa sobre a vida em sociedade, sociedade que não para e não pode parar. Portanto, é uma estupidez sem tamanho esperar que a lei vá cobrir todos os casos e hipóteses do mundo, antes de poder ser utilizada para o seu fim maior: harmonizar as relações humanas e garantir que o monopólio da violência continue com quem deve ficar: o Estado. Afinal, diriam, o nosso Código Civil é de 2002, última vez que a seleção de futebol brasileira ganhou uma copa do mundo. Metade do meu público não estava nascido, e a outra metade ainda estava há três anos do lançamento do primeiro celular da Apple, um tal de iPhone.
Claro: de lá pra cá, o Código Civil brasileiro já sofreu diversas emendas e alterações. As leis podem ser (e são) reformadas. Mas é humanamente impossível imaginar que a Lei esteja “em dia” com as mudanças sociais (e em alguns cenários – como no direito penal – isso sequer é saudável), e é absurdo pedir que o Estado não faça nada até que o Congresso Nacional decida legislar sobre um novo tema. Esse “não fazer nada” é um convite ao retorno da violência entre os pares, porque eu não vou esperar dez anos até a lei ser elaborada, enquanto meu vizinho me inferniza com um – digamos – drone passando na minha janela, filmando minha vida privada, fazendo um barulho chato pra danar no meu quarto logo cedo. Não… Já temos leis que dizem os limites para as liberdades individuais. Já temos garantias coletivas contra os abusos dessas liberdades, já temos instituições que podem vigiar essas relações (no caso hipotético: ANAC, DECEA, polícia federal, civil, militar…). Por que esperar? Por que não agir e proteger a convivência enquanto ainda há uma convivência para proteger? Lembra do princípio da prevenção, e da predileção do Direito por quem age para evitar o dano?
Todavia, aqui… Aqui, a conversa é BEM mais embaixo… Não estamos falando de um voo de drone, ou de o uso de uma rede social, mas do próprio direito (hipotético) do coletivo em “perder a paciência” com o Estado que o regula. Regula ao ponto de proibir que esse coletivo use a violência, seu primeiro direito, abdicado em prol de uma vida menos… Violenta. Mais longa. Menos hostil. Mais previsível.
Se a lei pode ser utilizada [pelo Estado] para impedir que um grupo enorme de pessoas diga que não quer mais viver sob os moldes constitucionais atuais, como isso se diferencia das ditaduras? Só porque há uma constituição escrita que diz o que é certo e o que é errado? Como Müller magistralmente lembra em seu artigo, Stalin mandou redigir uma constituição de 1936 que era um sonho-molhado-erótico pra democrata nenhum botar defeito. As assembleias populares do nazismo, que tinham forçam legiferante no regime, proclamavam os louros de um modelo que respeitava as diferenças políticas. “Porque está na lei” é um péssimo argumento, a qualquer tempo, para constituir obrigações e restringir direitos.
Então, como diabos saber qual a diferença entre uma democracia sadia, virtuosa, moralmente adequada, que se protege justamente de atacantes covardes e numerosos antes que eles possam efetivamente solapá-la, vs. uma ditadura que esmaga qualquer um que pense diferente, com base só numa leitura porca, malfeita, enviesada e inconstante do que essa mesma ditadura considera – e ela mesma produz – como “lei”?
Outra vez, a resposta é: “e eu sei lá?!”…
Talvez, só talvez… Seja como ter uma religião dentro de si. Não importa o que os outros digam você sabe quem é seu(sua) Deus(a), o que Ele(a) prometeu, e porque Ele(a) é o verdadeiro(a) enquanto todos os demais são falsos (se não são falsos, são só uma leitura desviada do verdadeiro Deus(a) que só o seu grupo conhece e segue, corretamente). Talvez não tenha, mesmo, como demonstrar racionalmente o porquê uma democracia pode passar por cima dos limites legais habituais para se proteger de quem quer destruí-la, antes que seja tarde. Ou, mais gravemente afirmando: talvez não seja possível fazer isso, mantendo essa democracia moralmente superior a um regime autoritário.
No entanto, já se foram nove páginas e eu não consegui sequer tocar no assunto principal. Fica em paz, porque não vêm outras nove páginas. Na verdade, eu não falei do “assunto principal” porque não há nada – de verdade – pra falar do assunto principal. Isso tudo não tem a ver com o ministro Alexandre de Moraes, na realidade. Ele é só um personagem que esse arco da História brasileira propiciou o aparecimento.
Querem que eu faça um artigo justificando tecnicamente, dentro da interpretação disponível no Direito brasileiro hodierno, todas a decisões de Moraes no bojo dos inquéritos que ele conduz (Fake News [INQ 4781] e Milicias Digitais [INQ 4874])? Eu faço. É fácil. Juro. Tem autor para citar, jurista pra recorrer, jurisprudência para apontar. Juro que é fácil justificar, tecnicamente, todas as atitudes dele. Citação por rede social? Fácil: art. 196 do Código de Processo Civil e resoluções 354/2020 e 455/2022 do CNJ. Moleza… Querem que eu justifique intimar dono de rede social para constituir representação legal em território brasileiro? Muito fácil: Lei 12.966/2014 [Marco Civil da Internet], combinada com Código Civil (na parte de responsabilidade pela PJ) e Código de Defesa do Consumidor combinado com a LGPD (e as obrigações que surgem à PJ que guarda ou trata dados de nacionais), mais um punhado de regulamentações infralegais emitidas por várias agências reguladoras. É, de verdade, fácil justificar. Então, por que eu não faço isso?
Porque nada disso vai mudar o sentimento de ninguém. Quem já acha que a justiça brasileira tem que ser obedecida, já acha isso antes da justificativa técnica. Quem já acha que o STF é amigo do Lula e inimigo do povo brasileiro seguirá achando exatamente isso, não importando que eu apresente as flagrantes violações de soberania cometidas pelo bilionário que mija no Brasil mas dá a barriguinha pra Índia, China, Hungria, Turquia… Não importa que eu demonstre que não se pode enfrentar um golpe de Estado só quando ele já aconteceu (pois, será tarde demais para a Ordem Constitucional atual).
Não é, faz muito tempo, uma discussão técnico-jurídica. Ela é 100% política e, como tenho defendido, especialmente após ler a obra de Bryan Caplan, “O mito do eleitor racional” é o maior dos mitos aquele que diz que as pessoas se informam e, com base nisso, decidem o que (ou quem) apoiam. Se assim fosse, bastava todo mundo ler os mesmos jornais ou assistir aos mesmos programas, e todos iriam para um lado ou para o outro. Na verdade, todos já escolheram seus lados e, na esmagadora maioria de casos, de forma irracional, misturando sentimentos com visões pessoais de mundo que se baseiam tanto em experiencias muito particulares quanto em preconceitos e, por cima disso tudo, passaram um verniz que tenta sempre juntar o maior número de argumentos a favor daquilo que creem, mesmo que o número (e qualidade) de argumentos em contrário seja muito superior (ou melhor).
Existe parcela expressiva da população (de novo, quase 50%) que acredita que o Estado brasileiro é um problema em si, sua existência deve ser extirpada ou violentamente reduzida, e as liberdades individuais devem ser perto de totais, erga omnis (tô gostando do rebuscado: “oponíveis a todos”). Cada cachorro que lamba sua caceta, “solidariedade social” é “meuzovo”, todo governo não presta, eu não concordei com nada disso que está em vigor e querem que eu aceite na marra, então vamos para o “tudo ou nada”. Inclusive, valendo massacre (“vamu fuzilar a ptralhada aqui do Acre…”). “Ah, é só força de expressão, retórica, piada de mau gosto” … Sempre é. Até não ser mais e passar a ser outra coisa. O nazismo, contam os livros de História, não nasceu monstruoso.
Do outro lado dessa briga de torcidas, também tem um pessoal chato pra danar, que fica falando em “fascismo” sem conseguir explicar o que é o fascismo, “letramento [bote-aqui-o-que-quiser]”, “falas problemáticas” e um bando de outras “senhas” para demonstrar a própria iluminação para seus grupelhos, mas que não ajudam a pousar no chão da realidade uma ideia sequer de como resolver um país na antessala da guerra civil. É a turma da “reparação histórica” que não tem outra finalidade senão a vingança. Que acha que boa parte da sociedade brasileira precisa abaixar a cabeça e pedir perdão por um passado que é absolutamente grotesco e lamentável, sim, mas que não tem o condão de contratar culpa ou responsabilidade para as novas gerações, sob a perigosa hipótese de fraturarmos o amalgama social de uma nação em definitivo. Assim eu penso. Esse identitarismo é, para mim, parte da gênese da alopração que vivemos atualmente. Mas, não vai caber aqui mesmo sendo importante.
Aí, tem um mundaréu de gente no meio dessas duas grandes torcidas organizadas, sem certeza alguma de quem está certo e desconfiados de que a situação é muito mais complexa do que “fascistas vs. esquerdistas/comunistas” querem fazer crer que é. Não basta que um lado vença, não basta que o outro lado suma. Não parece haver volta para um momento em que todos pareciam apostar no contrato social em vigor. A cada ciclo eleitoral e a cada radicalização de parte expressiva da população, vai ficando mais evidente para esse grupo de pessoas que a política nacional e local é cada vez mais hostil e não há volta. No limite dessa radicalização o rompimento surge como único prêmio e, como eu já havia dito, a História conta que esses são cenários onde, dado o tamanho parecido dos grupos sociais em confronto, a violência ou a guerra civil são o resultado.
“P&%#a Rodrigo, cê falou em guerra civil? Exagero, não?”. Duas observações: por uma visão estereotipada do que é a sociedade brasileira, bem como um desejo das elites em ter margem de manobra e controle sobre os ânimos do povão, fomos ensinados que o cidadão brasileiro é um sujeito pacífico por natureza, contrário à violência e naturalmente tendente à paz. E é por isso que matamos quarenta mil (40.000) nas estradas anualmente (392.000 se somarmos a década de 2011), e outros quarenta mil (40.000) na violência-de-cada-dia-nos-dai-hoje em 2023. Porque somos pacíficos. O segundo ponto é que, de fato, tivemos inúmeras guerras civis na história do Brasil, mas nunca receberam este nome. Era um tal de “Revolta disso”, “Revolução daquilo”, “Levante de não sei quem”… Para ficar em três episódios dentre dezenas: Inconfidência mineira, Cabanada e Tenentismo… Só três… Mas tem MUITO mais episódios de todos os tamanhos e épocas. Até guerra civil por vacinação teve (qualquer coincidência com os dias atuais não é mera coincidência). Guerra civil é isso: uma parte da sociedade se organiza e se arma (com o que tiver para se armar) e ataca [e é atacada pelo] o “Estado oficial”.
Nós vamos, daqui por diante, sair da antessala da guerra civil e entrar num novo conflito de ruptura da sociedade brasileira? Sei lá, a bola de cristal tá com problema no platinado, não tá pegando nem no tranco. Deixo previsões para quem tem “letramento em cultura cartomântica”. O que posso dizer (olhando para trás e não para frente, sempre lembrando que a História não serve pra prever o futuro, mas pra aprender sobre a dinâmica de como esses movimentos se deram no passado) é que toda vez que parte expressiva de um povo chegou na conclusão de que um dado acordo social, geralmente plasmado em uma constituição, não era mais do interesse desse grupo, porém, tal grupo não tinha massa suficiente para reformar tal acordo social pelo caminho legal, a solução se deu na porrada. Às vezes, com a fundação de novas nações. Às vezes com a capitulação ou, até mesmo, o massacre de um dos lados.
Eu queria um mundo sem Alexandre de Moraes. Não pelo que ele faz ou deixa de fazer, porque eu até concordo que alguém tinha que fazer, já que defendo a continuação da Democracia brasileira, refundada em 1988. Porém, se o STF fosse uma instituição forte, em uma República de verdade, um Alexandre de Moraes não precisaria jamais existir. O fato de ele liderar as ações de combate àqueles que participaram da tentativa de golpe no 8 de janeiro, e de tudo que aconteceu antes – bem antes, já em 2019, quando do primeiro inquérito instaurado – é simplesmente uma questão de perfil. Certamente, ele é um dos mais combativos dentre os onze ministros e aquela instituição decidiu que ele colheria os bônus e os ônus dessa atuação como “homem de frente”. Também, afirmo que se a instituição STF não concordasse com as medidas que Moraes toma e tomou elas já teriam sido cassadas há tempos, e ele teria saído da condução dos inquéritos “por motivos pessoais, de saúde, de família, de o raio-que-o-parta”.
A ideia de um STF, órgão de cúpula (= “que tampa a pirâmide”) do judiciário brasileiro, descendo do degrau de instituição máxima do Estado-Juiz e passando a figurar no imaginário de parte expressiva do povo como só mais um ator político, como seria o caso do senador do partido X ou governador do partido Y, é de todo danosa à saúde e longevidade da instituição de uma Suprema Corte numa democracia. Que o STF desempenha um papel político (como a Presidência ou o Congresso), isso é óbvio e tem que ser assim já que ele é apenas uma repartição do poder do Estado brasileiro. Poder que é sempre uno. Que o STF desempenha papel na política nacional não é nada de novo. É para desempenhar, mesmo. O que não pode acontecer é isto ser entendido como atividade político-partidária. Porque os partidos, numa democracia saudável, se alternam no Poder. Mas o STF estará lá “para sempre” (enquanto durar a ordem constitucional de 1988).
Por outro lado, não há instituições, nem democracia, nem Estado democrático, se ninguém defender essas ideias e instituições das agressões que as miram. Todavia, “defender a democracia” de quem? Do seu próprio povo? E no caso hipotético de um povo que está sendo movido por motivações egoístas, antissociais, totalitárias e autoritárias, sendo manipulado em seu ódio por meio de grandes corporações que, com suas redes sociais configuradas para espalhar mentiras e meias-verdades, atingem a toda a massa em questão de segundos, sem chances de uma reação com a verificação dos fatos por parte de órgãos de imprensa livre ou instituições oficiais do Estado… Vamos salvar a democracia para quem? Quem somos “nós”? “Nós” quantos?
O Direito e sua teoria não têm respostas definitivas, porque a realidade é sempre móvel. No caso concreto que comento por aqui, ele tem ainda menos respostas porque a natureza do problema não é exatamente um conflito entre “legal” ou “ilegal” (= técnica), mas entre “legitimo” e “ilegítimo” ( = moral) e o Direito, enquanto área aplicada da sociologia, só pode existir numa sociedade que considera o Estado democrático de Direito como algo legitimo, para começo de conversa. O Direito (as leis, as lógicas, as regras, as obrigações[…]) que emana desse Estado democrático, pressupõe sua própria legitimidade a partir da concordância e anuência do povo (ao menos, concordância e anuência de ampla maioria) acerca da legitimidade, não das leis, mas do Estado democrático de Direito como um todo.
Se o Estado democrático de Direito é fundado a partir da assembleia constituinte e se o produto disso – a Constituição – não é mais considerado legítimo por parte expressiva da sociedade, não há, sinceramente, nada que o Direito – enquanto ciência – possa fazer a respeito. E se estou errado e a maior parte da população entende que a Constituição de 1988 ainda é legítima como acordo social entre todos nós, então, a atuação de Moraes encontra guarida constitucional nos mais variados prismas da análise, ainda que possamos discordar em certas inovações no rito de seu expediente. Todavia, o Direito Constitucional, excetuando-se o que tange ao julgamento de crimes, socorre-se do Direito Processual Civil, e do Direito Processual Civil decorre o princípio da liberdade das formas que estipula certa supremacia dos objetivos por sobre os meios. Ou seja: desde que os métodos atingiam os fins ao que se destinam, não há ilegalidade presumida (vale tudo? você já deveria saber que não).
No entanto, nada disso seria preciso se a instituição “República Democrática” fosse forte no Brasil. E Moraes não seria preciso porque o povo (ou sua esmagadora maioria) não admitiria qualquer tentativa de atrofia ao Estado brasileiro ou às suas instituições que dão vida à promessa constitucional de 1988 (fundando uma nação mais segura para todos os tipos de pessoas [não importa a cor, o gênero, a religião…], materialmente menos desigual, de uma sociedade mais fraterna, onde quem tem mais deve oferecer mais e quem tem menos deve receber mais ajuda porque, no fim, a sociedade brasileira quer a melhor oportunidade para todos – tudo isso está lá). E todos os limites e acordos de convivência costurados àquela época visando o nosso futuro como sociedade e nação seriam protegidos com unhas e dentes. E as instituições (não os atores) se defenderiam, e defenderiam às demais, cada qual com sua missão clara, vindo à vida todos os dias. As polícias investigariam os abusos via inquérito; os Ministérios Públicos e Procuradorias denunciaram os crimes, se manifestados nas investigações; os juízes, desembargadores e ministros julgariam as ações e condenariam quem conspirasse contra a Ordem Constitucional em vigor, fosse civil ou fosse militar, fosse rico ou fosse pobre, fosse de direita, de centro ou de esquerda. O STF e seus onze ministros assistiriam a tudo, apenas garantido que a missão da CF/1988 estava sendo cumprida e jamais violada, por ninguém (e “ninguém” quer dizer ninguém). No choque entre direitos constitucionais, o STF daria razão a quem tentou evitar o dano à Democracia, antes de qualquer outro caso.
Dizem que a diferença entre “sonho” e “delírio” é o tamanho da chance de transformá-los em realidade.
É… Complicado…